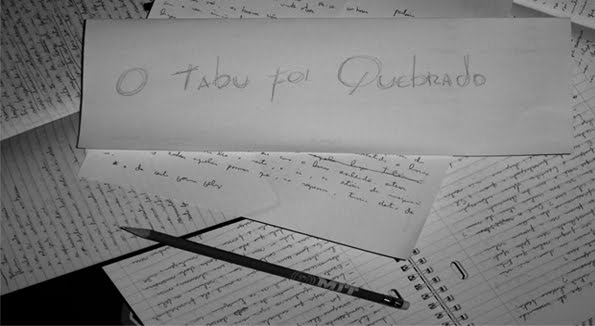Há muito tempo que o dia não amanhecia tão frio. Tento aquecer as mãos gélidas na nuvem de bafo quente que a custo consigo exalar numa tentativa de ganhar algum fôlego e com ele desentorpecer os músculos e amaciar as articulações que recusam qualquer movimento como se pregos invisíveis as acorrentassem no castanho vermelho da cama húmida.
Cambaleante e trôpego, endireito a custo o tronco e procuro esticar as pernas ossudas que nadam dentro destas calças surradas e imundas. Este movimento lembra-me outro, não muito longe no tempo do calendário, mas tão afastado de tudo o que posso recordar como meu. Era o movimento de preparação para mais uma corrida à volta do parque. Era também o tempo em que o estômago se sentia rei.
Este pensamento acorda no coitado grunhidos de protesto pela falta do jantar de ontem e exigi-me agilidade na procura da sua satisfação.
Passo as mãos pelo cabelo num gesto vão de melhorar o meu aspecto. Sei que já foram belos estes cabelos. Ela não se cansava de dizer como eram belos e macios. Não passam agora de tiras hirsutas e ressequidas, quebradas pelo frio e pelo vento do tempo inclemente. Como foi que me volvi assim desmazelado? Como foi que esqueci? Ó ingrata, porque foi que acreditaste nele?
Olho em volta em busca de uma precária salvação. Normalmente ela vem dos caixotes do lixo. Ao afastar-me da árvore queimada pela geada da noite, dou de caras com um pacote esquecido ao lado de um caixote virado. Lá dentro estão certamente os restos da minha salvação, agita-se o meu pensar. Porém, que esquisito isto: pego no saco e sinto-me invadir por um mal-estar e uma vontade insistente de o abandonar. Estás parvo, ou quê, grita o estômago num refilar atrevido. Abre esse saco já e vê o que tem dentro! Ah, que bela maçã, baba-se ele suavizando o seu roncar. Trinca-a já. É uma ordem seca e autoritária que não me deixa espaço para subterfúgios ou fugas. Ainda para mais ela parece endereçar-me um convite disfarçado num brilho vermelho e apetitoso que me enfeitiça. Decido-me.
Fecho os olhos e, numa volúpia de sensações e sabores, cedo os meus dentes à penetração daquela macieza sumarenta e perfumada. Mas oh, que calor pastoso invade agora a minha boca e que dor lancinante me perfura e dilacera! Num arremesso instintivo livro-me do fruto maldito. Três pingas rubras mancham a alvura da geada que me gela os pés. Pressinto na ferrugem baça que me escorre da boca juntamente com um sabor adocicado familiar, ter sido vítima da minha, embora maltratada, beleza e juventude. Não muito distante parece-me ouvir em estridência uma gargalhada vitoriosa e um ser melífluo perpassa os arbustos vizinhos aliviado do peso do seu ódio secular.
A partir de um texto de uma das aulas de escrita
Irene Crespo
terça-feira, 13 de abril de 2010
Se eu quisesse enlouquecia...
Seria extremamente fácil e talvez me fosse útil. Conseguiria chamar a atenção de alguns e afastar outros. Chegaria aquele ponto, ao ponto de ruptura.
Deixaria-me cair e levar-me pela loucura – ficava junto a ela. Era ela que tomava conta da minha vida – não eu, ela - a loucura.
Posso vê-la como uma mulher, suave e de olhar turvo, deitada numa chaise-longue a fumar cigarros com boquilha. De unhas vermelhas, perfeitamente pintadas e longas e mãos que lhe seguem os braços de cisne negro.
Tem uma pele de efeito mate, cheira a pó de arroz e tem o cabelo escondido num turbante. Sim, porque ela estava quase sempre de turbante. E fumava deitada. A loucura.
Dizem que há genes que se herdam com a loucura – como se fosse uma característica do corpo. Como uma marca. Talvez todos tenhamos a loucura cá dentro, uns a espreitam outras a ignoram.
Eu já a vi. Várias vezes. Ela jogava bridge com perícia, era linda e sempre inteligente. Casou-se até e teve 4 filhos. Não os conseguiu criar, claro que não. (Era louca)
Todos a conheciam, a ajudavam na sua loucura. Até eu que me vi várias vezes no quarto dela, a usar o batôn dela, a pôr os chapéus dela e o perfume dela.
Era fácil para mim enlouquecer. Era bom. Esquecia-me de mim e era ela, que como um fantasma paira e assombra os dias.
A loucura morreu há muitos anos, mas pelo menos, daquela casa e da filha que dela nasceu ela parece nunca ter desaparecido.
Se eu quisesse eu voltava lá, respirava o ar dela e enlouquecia.
Tenho tudo o que preciso, então.
Rita Saldanha, 25 de Novembro 2009 – Curso escrita criativa II
Nota: a minha Avó faria anos agora em Abril...
Deixaria-me cair e levar-me pela loucura – ficava junto a ela. Era ela que tomava conta da minha vida – não eu, ela - a loucura.
Posso vê-la como uma mulher, suave e de olhar turvo, deitada numa chaise-longue a fumar cigarros com boquilha. De unhas vermelhas, perfeitamente pintadas e longas e mãos que lhe seguem os braços de cisne negro.
Tem uma pele de efeito mate, cheira a pó de arroz e tem o cabelo escondido num turbante. Sim, porque ela estava quase sempre de turbante. E fumava deitada. A loucura.
Dizem que há genes que se herdam com a loucura – como se fosse uma característica do corpo. Como uma marca. Talvez todos tenhamos a loucura cá dentro, uns a espreitam outras a ignoram.
Eu já a vi. Várias vezes. Ela jogava bridge com perícia, era linda e sempre inteligente. Casou-se até e teve 4 filhos. Não os conseguiu criar, claro que não. (Era louca)
Todos a conheciam, a ajudavam na sua loucura. Até eu que me vi várias vezes no quarto dela, a usar o batôn dela, a pôr os chapéus dela e o perfume dela.
Era fácil para mim enlouquecer. Era bom. Esquecia-me de mim e era ela, que como um fantasma paira e assombra os dias.
A loucura morreu há muitos anos, mas pelo menos, daquela casa e da filha que dela nasceu ela parece nunca ter desaparecido.
Se eu quisesse eu voltava lá, respirava o ar dela e enlouquecia.
Tenho tudo o que preciso, então.
Rita Saldanha, 25 de Novembro 2009 – Curso escrita criativa II
Nota: a minha Avó faria anos agora em Abril...
quinta-feira, 8 de abril de 2010
Kornélia
Já te disse que és perfeito?
Gosto da tua maciez. Nem os homens me prendem assim. Basta-me um agora outro depois para me saciar o pouco que não me podes dar. Depois, deixo-os ir quando acaba a curiosidade. Perfeito só tu e o teu viver silencioso. As conversas cansam-me. Irritam-me até. Exaspero ouvir falar de vidas cor de rosa e outras coisas que não existem. Gosto da intimidade destes nossos serões. Não pedimos nada um ao outro e damos muito pouco para a felicidade que alcançamos juntos. Eu faço-te festas e tu ronronas. Pragmáticos. Quanto eu a minha máquina fotográfica.
Em fracções de segundo, momentos roubados, esgares captados. Não hesito. Ao contrário do que pensam na redacção quando entrego as fotos - “Tens cá uma vaca, és tu e a Kornélia!”, odeio que me chamem isto, sabes - não é sorte. E é mais que o saber. É muito mais que escolher temas, a luz certa ou emoções no momento exacto do disparo. Sou eu. Aquele acto mecânico requisita o meu passado, tudo o que guardei para mim, os filmes que vi, os quadros que admirei. É por isso que não faço composições fotográficas. Apenas a cena. Seca como eu. Gosto de fotografar as pessoas como verdadeiramente são. Vidas simples. Dramas tramados. Sinto que estamos ligados por uma irmandade imposta que formata existências e sentimentos. Realidades a preto e branco. Atraem-me velhos de barba por fazer com sorrisos desdentados. Mulheres desmazeladas com filhos ranhosos pela mão. Desenraizados. Desconcertados. Acho que os compreendo, que são como eu. Assim que a vida nos permite, fugimos uns dos outros. Do que somos. Espécies sem cordão umbilical. Nem para nascer nem para viver. Trabalhamos para quem nos pagar. Qualquer um serve. Não queremos vínculos. Eu, nem o familiar sou capaz de manter. Um telefonema basta para cumprir a obrigação de filha. 10 minutos e não penso mais neles até ao próximo mês. Às vezes passam dois. Tenho a certeza que eles também não pensam em mim. Agora que estou longe percebo que já não nos importávamos quando nos separámos. Pergunto-me se tivesse tido irmãos se seria diferente. Talvez não vivesse tão sozinha. Assim, sou apenas um acidente de percurso. É por isso que a passagem dos dias não me traz saudades. Só alívio. Eu sei, gato. Engano-me com a verdade dos outros. Eu, nem como eles sou. O meu existir é oportunista, cola-se à imagem dos outros porque o meu envergonha-me. Sou indiferente e vazia. Ninguém me quer e eu não quero ninguém. Aprendi a não ter sentimentos. Agora já não me comovo com criancinhas raptadas e idosos mal tratados. Chego a ter pena de mim. Preciso da desgraça dos outros para me sentir melhor. Ainda assim, todos eles piores que eu, superam-me. Emanam uma luz que não encontro em mim. Sou baça, opaca, escura. Chego a ter medo. Chego a pensar que sou capaz de os matar por mero despeito. Imagino a máquina como uma arma e disparo furiosamente contra eles na esperança que a sua luz entre em mim e me faça acreditar que não sou louca. Que não sou diferente. Que não tenho defeito. A solidão é um preço muito alto que pagamos pela independência. E ninguém, em nenhum momento, devia estar só. É demasiado perigoso para o pensamento. Ainda assim, surpreendo-me com a minha máscara. Consigo ser popular. Os meus amigos até me acham divertida. Puras manobras de diversão. Não percebem que os observo. Que os fotografo para os estudar. Há dias que consigo aproximar-me da normalidade deles sendo simplesmente uma caixa de ressonância. Mas ao fim de algum tempo a tarefa pesa-me. A resistência que tenho a tudo o que me poderá tornar humana acaba por preencher todo o meu vazio. Tenho medo que seja bom. E o que é bom, acaba um dia. É quando os humanos sofrem. Gato? Estás a ouvir-me? Já nem tu me ouves......
Ana Alves Oliveira
Gosto da tua maciez. Nem os homens me prendem assim. Basta-me um agora outro depois para me saciar o pouco que não me podes dar. Depois, deixo-os ir quando acaba a curiosidade. Perfeito só tu e o teu viver silencioso. As conversas cansam-me. Irritam-me até. Exaspero ouvir falar de vidas cor de rosa e outras coisas que não existem. Gosto da intimidade destes nossos serões. Não pedimos nada um ao outro e damos muito pouco para a felicidade que alcançamos juntos. Eu faço-te festas e tu ronronas. Pragmáticos. Quanto eu a minha máquina fotográfica.
Em fracções de segundo, momentos roubados, esgares captados. Não hesito. Ao contrário do que pensam na redacção quando entrego as fotos - “Tens cá uma vaca, és tu e a Kornélia!”, odeio que me chamem isto, sabes - não é sorte. E é mais que o saber. É muito mais que escolher temas, a luz certa ou emoções no momento exacto do disparo. Sou eu. Aquele acto mecânico requisita o meu passado, tudo o que guardei para mim, os filmes que vi, os quadros que admirei. É por isso que não faço composições fotográficas. Apenas a cena. Seca como eu. Gosto de fotografar as pessoas como verdadeiramente são. Vidas simples. Dramas tramados. Sinto que estamos ligados por uma irmandade imposta que formata existências e sentimentos. Realidades a preto e branco. Atraem-me velhos de barba por fazer com sorrisos desdentados. Mulheres desmazeladas com filhos ranhosos pela mão. Desenraizados. Desconcertados. Acho que os compreendo, que são como eu. Assim que a vida nos permite, fugimos uns dos outros. Do que somos. Espécies sem cordão umbilical. Nem para nascer nem para viver. Trabalhamos para quem nos pagar. Qualquer um serve. Não queremos vínculos. Eu, nem o familiar sou capaz de manter. Um telefonema basta para cumprir a obrigação de filha. 10 minutos e não penso mais neles até ao próximo mês. Às vezes passam dois. Tenho a certeza que eles também não pensam em mim. Agora que estou longe percebo que já não nos importávamos quando nos separámos. Pergunto-me se tivesse tido irmãos se seria diferente. Talvez não vivesse tão sozinha. Assim, sou apenas um acidente de percurso. É por isso que a passagem dos dias não me traz saudades. Só alívio. Eu sei, gato. Engano-me com a verdade dos outros. Eu, nem como eles sou. O meu existir é oportunista, cola-se à imagem dos outros porque o meu envergonha-me. Sou indiferente e vazia. Ninguém me quer e eu não quero ninguém. Aprendi a não ter sentimentos. Agora já não me comovo com criancinhas raptadas e idosos mal tratados. Chego a ter pena de mim. Preciso da desgraça dos outros para me sentir melhor. Ainda assim, todos eles piores que eu, superam-me. Emanam uma luz que não encontro em mim. Sou baça, opaca, escura. Chego a ter medo. Chego a pensar que sou capaz de os matar por mero despeito. Imagino a máquina como uma arma e disparo furiosamente contra eles na esperança que a sua luz entre em mim e me faça acreditar que não sou louca. Que não sou diferente. Que não tenho defeito. A solidão é um preço muito alto que pagamos pela independência. E ninguém, em nenhum momento, devia estar só. É demasiado perigoso para o pensamento. Ainda assim, surpreendo-me com a minha máscara. Consigo ser popular. Os meus amigos até me acham divertida. Puras manobras de diversão. Não percebem que os observo. Que os fotografo para os estudar. Há dias que consigo aproximar-me da normalidade deles sendo simplesmente uma caixa de ressonância. Mas ao fim de algum tempo a tarefa pesa-me. A resistência que tenho a tudo o que me poderá tornar humana acaba por preencher todo o meu vazio. Tenho medo que seja bom. E o que é bom, acaba um dia. É quando os humanos sofrem. Gato? Estás a ouvir-me? Já nem tu me ouves......
Ana Alves Oliveira
Subscrever:
Mensagens (Atom)