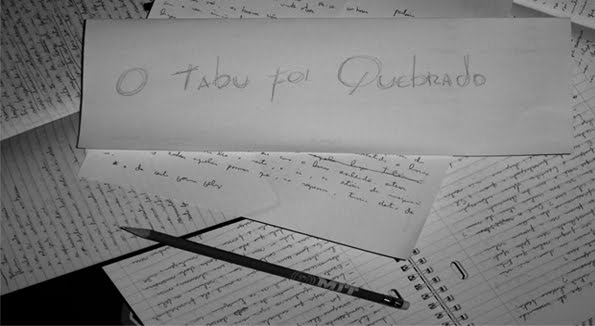Lisboa, 17 de Janeiro de 2012
Hoje ganhei o dia. Chegou a D. Margarida. A D. Margarida é uma velhinha simpática, doce, calma, com olhar meigo. Lúcida, articulada. A D. Margarida já não tem as supra-renais. Se, por um lado, é assustador vê-la aqui, internada de urgência por causa de um simples diarreia e alteração dos valores do potássio, conforta-me vê-la, com aquela idade, ainda tão viva.
Por outro lado, o pitoresco e o grotesco continuam de mãos dadas neste hospital. Fui fazer um ECG, exame mais que corriqueiro e indolor. Na solidão enorme e fechada do elevador uma mulher, sozinha, chorava a morte ainda quente do marido. Na banca da Fundação do Gil estava hoje a Dominatrix que tentava, em vão, vender bonecos inocentes aos transeuntes. Talvez se vestisse o pobre Gil de látex poderia ter melhores resultados. A D. Graça, depois de calma e plácida manhã, entrou no seu auge de delírio no período da tarde. Ao mesmo tempo que todos rimos, faz-me pena. Mesmo que ela, mergulhada na sua demência senil, visitando o passado levando o presente, não se aperceba do seu estado de degradação, certo é que, quando nova e lúcida, não desejaria tanta solidão para o fim dos seus dias. Porque ninguém quer. O que haverá de verdadeiro na mágoa dela relativamente aos tios, à mãe morta, quanto amor verdadeiro existirá nela pelos avós e pelo seu aviador Paulo que por aqui passa todos os dias? A velhota do rádio a pilhas lá da cama do fundo foi bailarina, cantora lírica e advogada. Qual seria a ordem dos seus sonhos de infância? O guineense matulão ajuda a rapariga meia tonta ao jantar. Parte-lhe a carne aos pedacinhos como se o fizesse a uma filha. Não são pai e filha, são dois estranhos que tiveram o infortúnio de serem brindados com uma doença crónica e que tiveram a fortuna de se juntarem aqui para se apoiarem. O guineense matulão do pijama azul, fio de ouro ao pescoço e a rapariga meia tonta, desdentada, um par improvável no mundo real.
O José Félix acabou de me ligar, depois de parar o carro. Durante a conversa um homem resolveu urinar para cima do carro. Afinal o pitoresco e o grotesco também existem lá fora. Ou então transmitiu-se juntamente com o telefonema. É preciso ter muito cuidado com as ligações que se estabelecem com hospitais.
A D. Celeste já iniciou a gritaria “enfermeira, tenho xi-xi-xi-xi!”, já quase tudo adormeceu no quarto (são 8.30 da noite), tenho já o braço esquerdo negro. E o Pedro ainda não disse nada. O Alexandre ligou-me de manhã a desejar bom-dia – a primeira voz conhecida aqueceu-me o dia. A Rita e a Cláudia estiveram cá.
Estou a ouvir as Variações Goldberg e imagino que, no corredor, está um piano de cauda e um pianista de casaca de abas de grito a tocar. Isto até seria verdadeiro se estivesse num filme de Fellini. Mas, apesar do pitoresco e do grotesco, este é o mundo real.
Hoje ganhei o dia. Chegou a D. Margarida. A D. Margarida é uma velhinha simpática, doce, calma, com olhar meigo. Lúcida, articulada. A D. Margarida já não tem as supra-renais. Se, por um lado, é assustador vê-la aqui, internada de urgência por causa de um simples diarreia e alteração dos valores do potássio, conforta-me vê-la, com aquela idade, ainda tão viva.
Por outro lado, o pitoresco e o grotesco continuam de mãos dadas neste hospital. Fui fazer um ECG, exame mais que corriqueiro e indolor. Na solidão enorme e fechada do elevador uma mulher, sozinha, chorava a morte ainda quente do marido. Na banca da Fundação do Gil estava hoje a Dominatrix que tentava, em vão, vender bonecos inocentes aos transeuntes. Talvez se vestisse o pobre Gil de látex poderia ter melhores resultados. A D. Graça, depois de calma e plácida manhã, entrou no seu auge de delírio no período da tarde. Ao mesmo tempo que todos rimos, faz-me pena. Mesmo que ela, mergulhada na sua demência senil, visitando o passado levando o presente, não se aperceba do seu estado de degradação, certo é que, quando nova e lúcida, não desejaria tanta solidão para o fim dos seus dias. Porque ninguém quer. O que haverá de verdadeiro na mágoa dela relativamente aos tios, à mãe morta, quanto amor verdadeiro existirá nela pelos avós e pelo seu aviador Paulo que por aqui passa todos os dias? A velhota do rádio a pilhas lá da cama do fundo foi bailarina, cantora lírica e advogada. Qual seria a ordem dos seus sonhos de infância? O guineense matulão ajuda a rapariga meia tonta ao jantar. Parte-lhe a carne aos pedacinhos como se o fizesse a uma filha. Não são pai e filha, são dois estranhos que tiveram o infortúnio de serem brindados com uma doença crónica e que tiveram a fortuna de se juntarem aqui para se apoiarem. O guineense matulão do pijama azul, fio de ouro ao pescoço e a rapariga meia tonta, desdentada, um par improvável no mundo real.
O José Félix acabou de me ligar, depois de parar o carro. Durante a conversa um homem resolveu urinar para cima do carro. Afinal o pitoresco e o grotesco também existem lá fora. Ou então transmitiu-se juntamente com o telefonema. É preciso ter muito cuidado com as ligações que se estabelecem com hospitais.
A D. Celeste já iniciou a gritaria “enfermeira, tenho xi-xi-xi-xi!”, já quase tudo adormeceu no quarto (são 8.30 da noite), tenho já o braço esquerdo negro. E o Pedro ainda não disse nada. O Alexandre ligou-me de manhã a desejar bom-dia – a primeira voz conhecida aqueceu-me o dia. A Rita e a Cláudia estiveram cá.
Estou a ouvir as Variações Goldberg e imagino que, no corredor, está um piano de cauda e um pianista de casaca de abas de grito a tocar. Isto até seria verdadeiro se estivesse num filme de Fellini. Mas, apesar do pitoresco e do grotesco, este é o mundo real.