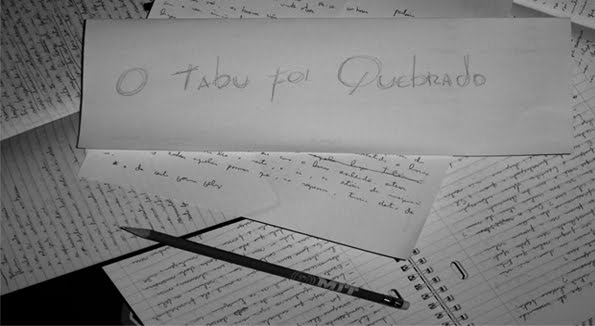sábado, 27 de março de 2010
ele estava ali
aproximou-se devagar. não olhou para ela. não olhou para ninguém. apenas apoiou o cotovelo no balcão do bar. ela gostou. a postura era de homem, um homem a sério.
ele continuava sem olhar para ela. a sua mão segurava uma nota, a sua voz segurava um pedido:
vodka martini, agitado e não mexido.
o barman serviu-o. duas mulheres aproximaram-se. uma apoiou os dedos longos no ombro dele. mão sobre smoking. a outra pôs-se cara a cara com ele. nariz com nariz. lábios. e o copo dele, afastou-a, bebeu e sacudiu a mão da outra.
deu passos, deixou-as para trás, com desconcerto na cara.
agora olhava para ela. copo na mão. avançava para ela. e ela não o conhecia, mas ele segredou-lhe ao ouvido. e ela não o conhecia mas assentiu desarmada. ambos abandonaram o bar e o copo.
no quarto ela chamava por ele, clamava aleluias, deus do céu!
e ele via-se reflectido nos enormes vidros da varanda, no espelho escuro que existia depois da porta da casa de banho. ele via-se animal. um animal sexual vazio sobre uma louca em queda no amor. ele não sentia. ela sentia tudo. ele não sentia porque o corpo é uma máquina de estímulos, a sua cabeça: lenha sem chama.
a chama consome até à cinza.
mortos, somos cinza.
no dia seguinte ela estava na cama. ele não. os polícias olhavam para ela. para o seu corpo.
um pegou-lhe no pulso, disse: os mortos cheiram a cinzas.
Francisco Ribeiro Rosa
Provocações do Arco da Velha
Com tantas andanças debaixo do arco-da-velha, o manel esqueceu o mais importante: o lançamento de um livro misterioso no palácio do Conde de Abranhos. Quando se deu conta, ao soar das sete badaladas no sino da torre da velha igreja de S.Teotónio, desalvorou Lisboa fora, ciente de encontrar neste recôndito lugar, a Rita, protectora de personagens, como anunciado por um anjo negro na nave da igreja de S.Lázaro em dia de penitência.
Chegou esbaforido, sem folgo para atacar a malvada protectora, escondida entre hostes protegidas por um raio de luz que incidia directamente sobre a escada que conduzia a lado nenhum, provocando calafrios de impotência pelo ar sonegado por aquela que por certo jazia entre muitos naquela plateia pejada de seres chamados “assistência”
Onde está ela? Pensava ele, o usador de personagens, a devorar com os olhos manchas de espectadores em busca deste guardião de abilios enforcados nas suas vidas, rotineiras e diárias, a aguardar o grito de ipiranga libertador. O Manel bem que os ouvia: “ salva-me manel, a minha vida é igual à do meu vizinho. Preciso do vinho tinto que me dás, preciso da tua autoria para me libertar deste fado atroz que me faz ser porco, com direitos de porco, quanto eu quero ser cavalo para lidar toiros no campo pequeno. Não faz mal que não saibas escrever, a gente está habituada a viver com erros”.
Por artes mágicas, a rita sumiu no meio daquela leva, enrolada num sobretudo mágico para enfrentar os 4º da CREL como anunciado por D. Vargas, protector dos friorentos, naquele noite também marcada por nepalezes, conquistadores de entranhas, pouco amigo do ambiente, feitos com uma tal Renova.
Atenção personagens, cuidado com os bolos de arroz que uma tal rita anda para ai a dar. Aquilo é bom, tem crosta crocante, mas lembrem-se dos efeitos especiais provocados pelo vinho do manel. Lembrem-se das fidalgas com os quartos traseiros empinados em frente ao altar-mor, lembrem-se que ainda um dia vão poder descobrir a vida secreta de uma tal Viúva Teles, do secXVIII, que ainda anda por aí a perguntar pelo padre Francisco, o tal dos ciganos, das concertinas e das confissões junto às pipas de palheto, por ser vinho brando, do agrado do senhor.
Manuel Alonso,
em resposta à Rita, protectora de personagens, do arco da velha.
quarta-feira, 24 de março de 2010
23:10h
António regressava do parque de estacionamento. Eram oito da noite. Para trás deixava a cabina onde trabalhava. De passo largo, satisfeito, caminhava até casa. Quem olhasse para ele não adivinharia um homem sem sonhos. Mesmo depois de viver em paz.
Ainda era difícil chegar a casa. Abrir a porta e, a esperá-lo, a angústia do passado na expressão desolhada e o corpo rígido da mãe. “Estou cansada. Não durmo bem”, mascarava. Serenava apenas quando olhava o jantar quente em cima da mesa. Eram só os dois.
António vivia de rotinas. A repetição da vida numa segura monotonia que afiançadamente não lhe trazia surpresas nem traições. António era um homem cerrado. Só usava camisolas pretas. As únicas que o ocultavam até de si e, oculto, vivia o escuro da noite que à janela do seu quarto o distraía sem culpas. Desde os tempos de escola que lhe reclamavam a atenção. Foi naquela altura que a cabeça aprendeu a fugir. Assim, a vida não parecia tão difícil.
Agora, gostava que fosse possível aprender tudo de novo. Sonhar. Confiar. Mas os ânimos mais atrevidos eram condenados pela lembrança que o combóio das 23.10h trazia. A partida do pai. A nova vida. O alívio. A paz. Desejos tão impossíveis e subitamente todos realizados. Depois destes, não aspirava a mais nenhum.
Ao longe, o seu conhecido.
Sorria ao som do seu apito.
Da felicidade apenas guardava pequenos ecos dispersos na memória. Lembrava-se de ter sido uma criança feliz. Passeios de mãos dadas. Ele pequeno a olhar o pai enorme como os sonhos e o mundo de que lhe falava. Um conquistador que queria seguir. Recordava as tardes na casa grande com muitos quartos e cheia de senhoras só de robe. Apesar de estranhar vê-las com roupa de noite em pleno dia, tudo parecia normal quando o apaparicavam e contavam histórias de encantar. Até ao dia em que percebeu que aquelas histórias não encantavam a mãe. E aos poucos deixaram de ser felizes.
Com a barba veio a revelação.
A crueldade dos colegas de escola acabou-lhe com o mito. Às gargalhadas.
Não sabia o que fazer com o que tinha descoberto. Como é que se vive depois de saber que o pai nunca tinha sido aquele pai? Como é que se pode aceitar um novo pai? Não. Não havia novo nem velho pai. Havia só aquele desconhecido que ele odiava duplamente. Por tudo o que era e por tudo o que ele nunca tinha sido.
E ele, quem era? Ser filho de um desconhecido fazia dele um órfão. Era isso que ele era. A sua identidade extinguiu-se naquela verdade. Uma verdade que não consentia e que tinha que aceitar. Só tinha aquela vida. “Não vales nada. És igual a ela”, humilhava. À mãe, a repulsa apenas lhe valia ameaças que lhe abriam a porta da rua. Mas o rapaz fica, rematava. Sem ti, talvez se faça homem. Foi então que se vestiu de pesar. Pelo medo que o escravizava mudo e quedo.
Até ao dia que se achou. E nesse dia foi capaz de acabar com o asco que o corrompia. Uma noite foi ao seu encontro. Tinha os punhos cerrados, tão cerrados que lhe doíam. Receava perder toda a coragem que reunira. A veste mais escura que a noite, apanhou o pai de surpresa. Olhou-o nos olhos e, sem remorsos, desembuchou anos de nojo. Desaparece, ou mato-te!, foram as últimas palavras que lhe disse.
Nessa noite, voltou à janela do quarto de peito aliviado. O pai tinha razão. Ele e a mãe eram iguais. Aquela noite provou-lhe que os mortais também ressuscitam. Plenos. O desconhecido não voltou para casa e as noites ganharam cheiro a lavado. Foi nesta altura que deixou de desejar. Tudo o que queria, alcançara. À mãe agradecia nunca ter desistido. Por isso, também ele não fraquejara.
Ao fundo, o apito do comboio das 23.10h. A constância a cumprir-se num cumprimento de amigos.
Conciliado, agradecia-lhe a ajuda. A sua luz, como que uma anunciação divina, mostrou-lhe o fazer. “Combóio faz mais uma vítima”, diziam os jornais do dia seguinte. Os braços endureciam. Ainda recordavam a força com que o empurrara. Impávido, ainda via o seu desaparecer trucidado. Impiedoso com as horas.
Ana Alves Oliveira
Nas asas do vento
Voei nas asas do vento.
Quieto, ele não queria. Estava talvez aborrecido com a igualdade do dia e da noite. Porque preferências todos nós temos. E vá-se lá saber que preferências o vento tem.
Sabe-se que dormiu até tarde talvez para não se misturar com a neblina opaca e parada, que só o sol viria a dissipar na secura do seu calor atrevido.
E foi então que o arredio vento, distraindo-se, saiu para namorar as ondas.
E eu voei. Como um pássaro. E rasei a falésia. E lá em baixo um manto verde de esmeraldas ali deixadas esquecidas gorgulejava a espuma branca com que retribuia o beijo ao vento na areia molhada.
Era o meu primeiro voo. Com uma asa que não era a minha. Nem do vento. Uma asa que se desenhava curvilínea na imensidão azul e que me salvava da gravidade com linhas quase invisíveis.
O ar foi momentaneamente meu. O azul perdeu os limites e um lago imenso ofereceu-se malévolo e cândido. Ocupou-me por inteiro a emoção da vez primeira, plena de borboletas virgens.
segunda-feira, 22 de março de 2010
O Poço
As impurezas acumuladas no fundo turvavam-lhe o esforço de acreditar na pureza do beijo.
Como a água do poço, o beijo era frio.
Também ele turvo, sem que no entanto lhe conhecesse a razão da sua incerteza, escorria-lhe pela face sem que tivesse tempo de o sentir.
Seria o beijo limpo, puro e verdadeiro se não viesse do fundo do poço?
Não sabia.
Mas sabia que nunca iria saber a que sabe a água de um beijo que vem de cima, da água mais limpa, mas cristalina. Daquela água que se reflecte em nós e nos inunda de luz e certeza.
Maria não gostava de tirar água do poço.
A água do beijo vinha sempre do fundo. E no fundo do poço o beijo era seco.
Ana Alves Oliveira
O Bolo de Aniversário
Olhou o bolo de aniversário carregado de velas, tantas quantos os anos que lhe passaram pelo corpo. Parecia que toda a superfície do bolo estava em chamas, aquela luz cortante a ferir-lhe os olhos, os gritos cantados a cortar-lhe os ouvidos.
Agora pede um desejo, avô, gritavam os miúdos todos os anos após a estridente e descontrolada cantoria que durava tempo demais tal como ele.
E todos os anos ele olhava aquele aglomerado de chamas pequeninas apertando-se umas contra as outras. Parecia que aquele bolo não acabava mais, ano após ano mais uma se lhes juntava e o bolo esticava, esticava. Até um dia, pensava, que rebente de vez.
O desejo, avô, insistiam.
O desejo era sempre o mesmo, desde os tempos em que naquele bolo apenas eram espetadas, à pressa, meia dúzia de velas tristes, já usadas de outros anos até se dissolverem na cobertura rala de chocolate.
Desde então o desejo era sempre o mesmo, apesar da saber que nunca se iria realizar. Mas desejava-o sempre, a mesma intensidade, a mesma força, ano após ano, vela após vela, até que o bolo se apague de vez.
Como fazer o tempo voltar atrás, interrogava-se. Era só isso que desejava, fazer o tempo voltar atrás para aquele dia em que tudo mudara. Como voltar atrás e ficar em vez de o deixar sozinho, tão pequenino que era?
Apagou as velas com o esforço da lembrança do irmão mais novo, ainda bebé, sozinho no chão, junto ao berço, corpinho sem vida, enquanto ele, alegre e esquecido, trepava alto a figueira do quintal até onde os seus sonhos iam, sem responsabilidades ou obrigações.
Apagou as velas como sempre, desde então, com as lágrimas do arrependimento.
Muito me tarda a Primavera
Tarda-me o sol nas pregas engelhadas da manta rota da alma.
Tarda-me o riso dos pardais nos braços desamparados.
Tardam-me os dias quentes, soltos, saídos de dentro deste tempo esquecido do tempo.
Tarda-me a exultação de outro vir, de outra vez ser.
Tudo em mim grita uma urgência de sentir a vida a pular do âmago da vida.
Seguro os olhos nas árvores do parque que tentam em vão velar a sua nudez envergonhada com ténues tules de uma cor ainda sem cor.
Os meus olhos teimam mergulhar nos segredos que fermentam o novo renascer. Detêm-se e observam no limite próximo da orla do parque, uma fileira de de galhos juvenis semeados de pontos brancos, pequeninos miosótis, pendurados, aconchegados num incipiente leito de vermelho ocre a preceder a promessa de uma folhagem quente e atrevida. A primeira a querer quebrar o longo letargo frio em que tudo, mas tudo, se retrai, encolhe, implode para existir na mera potencialidade do que há-de vir.
Segreda-me a razão que o ciclo se há-de cumprir. E cumprir-se-á. Com tempo. Segundos transformados em minutos, em horas, dias, semanas talvez.
Digo-me que já devia dominar a paciência da semente e ocorre-me que toda uma vida humana se pode resumir ao ciclo de um ano de vida de uma árvore.
Faço o exercício e sumario uma vida a esse tempo único:
Febril o primeiro trimestre a brotar das gretas da terra, a deixar-se engavinhar, a crescer, a soltar-se, a subir, subir, subir...a segurar o mundo na mão, a proclamar e a olhar com sobranceria inocente o mundo.
Ávido o segundo trimestre a engalanar-se de cores berrantes, a ufanar nos raios doirados da glória, a engravidar o conhecimento, a dar vida, a fazer-se criador. A dominar e a ser dominado, a vencer ou a ficar para sempre vencido.
Prenhe o terceiro trimestre a colher o que mesmo sem saber semeou. A observar, a escutar, a entender e a aceitar. A curar as feridas e a ir para lá das dores. (ou não...)
Plano o quarto trimestre: primeira hipótese, a ficar imbecil; segunda hipótese a tocar os limiares da sabedoria porque adivinha a eternidade das coisas.
E é na antecipação do eterno repetido que o mito primavera me persegue. Ou não fosse ela a primeira. Ou não fosse quem a precede conter em si a promessa inexorável da germinação.
Ou será um medo insidioso de que o ciclo natural se subverta e com ele a desesperança da minha reinvenção?
Irene Crespo
Arco da Velha
Eu não consegui ir e o Manel faz-me, por email, a seguinte provocação:
"Rita, espero que tenhas uma desculpa do arco da velha para a tua ausência de ontem."
À qual eu respondi, da seguinte forma:
Havia uma velha que morava numa casinha debaixo de um arco.... toda a gente a conhecia aquele lugar como o Arco da Velha.
A Dona Mimi, de 93 anos, sempre viveu ali debaixo de um arco.
Certo dia o Manel, mais conhecido como o usurpador de personagens, passou debaixo do arco num carro a alta velocidade - andava louco para “fanar” esta querida e redondinha Dona Mimi. Ele queria a velha que tinha dado o nome ao arco. Tinha de ser uma personagem sua, tinha!
A Dona Mimi, já avisada pela Rita, mais conhecida como a protectora das personagens filadas pelo usurpador do Manel, ligou-lhe a pedir ajuda.
Rita acorreu ao pedido e juntas combinaram na 4ªfeira, dia 16 de Dezembro, dia em que o usurpador estaria a apresentar o seu novo conto com personagens “fanadas”, fazer as mudanças da Dona Mimi e tirá-la da casa debaixo do arco.
Escolheram uma residência sénior do Grupo Mello, muito bonita, de frente para o mar, na marginal.
A Dona Mimi está feliz.
O Manel dizem que anda há dois dias a rondar a casa do arco que agora está vazia... mora lá um gato preto.
Agora é o Arco do Gato.
Atenção, velhos, novos, crianças e jovens, o Manel anda à procura de uma próxima vítima...
sábado, 20 de março de 2010
O meu 1º exercício de escrita criativa.
Vivíamos todos na mesma praia. As ondas sempre nos acompanharam. Até que um dia cavou-se um sulco na terra e fomos afundados. Julguei que tinha morrido. Das fusões e combustões, entranhei-me com outros desconhecidos. Passamos pela fornalha. Achava que deviam estar loucos! Daí a virar uma espécie de pasta foi um instante.
E depois de alguns dias, fiquei colado a outro e a mais outro.
Aqui estou eu. Sou um copo. Sou vidro. O meu primo, soube na semana passada, é um caleidoscópio. Que sorte! Também gostava. A minha vontade de voltar ao mar é muita. Sinto-me meio inchado. Estranho.
No outro dia disseram-me que nos partimos e nos desfazemos em cacos. Depois lixo ou reciclagem. Aqui me vou ficando. O que mais gosto é da água. Sinto-me como se tivesse voltado à praia… Por aqui é mais isso, e também algum vinho.
Rita Saldanha
Outubro 2006
sexta-feira, 19 de março de 2010
Quand je cache mes yeux.
Quand je cache mes yeux, je te vois t'inscrire dans le fond de mon regard. Tu flottes en surimpression sur le halo de brumes roses et grises qui se lèvent un beau matin d'été.
Quand je cache mes yeux, ton sourire timide vient danser sur les couleurs qui t'entourent.
Quand je cache mes yeux, j'entends les sons et les murmures de ta voix, qui me transpercent, comme si, soudain, il n'y avait plus qu'eux.
Quand je cache mes yeux, je reçois l'éclair de cette lueur inquiète qui se dissimule dans ton regard.
Ne sois pas triste, non, ne sois pas triste. Ton intuition est juste. Mais tu sais que le destin doit s'accomplir et que nous n'y pouvons rien.
L'été de mes neuf ans, avant de partir à l'école militaire, il y aura ce beau dimanche d'été où je pourrai aller à la plage avec vous.
Après nous être baignés et avoir couru comme des fous en jouant au ballon avec ta petite soeur, l'heure viendra de nous enfoncer dans la grande pinède pour y déjeuner. Puis, ton père et ta mère somnoleront et ta soeur s'endormira profondément près de nous, enroulée dans son drap de bain. Avec la plus grande prudence, nous nous relèverons et nous chuchoterons. Nous serons l'un en face de l'autre, appuyés chacun sur un coude. Je te raconterai mes premières années passées en pension.
Tout en répondant aux questions de l'insatiable curiosité de tes six ans, je jouerai avec des poignées de sable, et plaçant ma main au-dessus de ton avant-bras dénudé, je laisserai s'écouler lentement sur ta peau, les grains qui glisseront et iront s'amasser en petit tas sur la rabane. Cette caresse éveillera en toi, en même temps que des émotions inconnues qui marqueront ta mémoire au fer rouge, une angoisse que tu ne sauras expliquer.
Quand je cache mes yeux, je vois quelque chose qui m'effraie et qui donne raison à ton regard inquiet.
Quand je cache mes yeux, je sais qu'après ce jour, nous ne nous reverrons jamais.
Quand je cache mes yeux, apparaît, dans le ciel bleu, un grand oiseau argenté qui le traverse, en filant plus vite que le son. Je suis pilote d'essai sur un mirage et je suis à ses commandes.
Quand je cache mes yeux, il y a ce jour, un jour comme tant d'autres, où, au cours d'une manoeuvre, le bel avion de chasse se désintègrera dans un bruit de tonnerre, et se dispersera comme un bouquet final au-dessus de la terre.
Quand je cache mes yeux, je vois distinctement l'image qu'éveillera alors, en toi, le souvenir de moi.
Tu sauras, ma cousine, que le sable pleurait.
incisões
a ferida que se queima, fecha. é uma ferida que existe sem existir. somos carne. matéria. a matéria queima. a matéria pode ser só cinzas.
o espírito está para lá da matéria. dizem que subsiste mesmo depois das cinzas.
há feridas que subsistem mesmo depois de queimadas.
...
uma cicatriz é o estranho.
a carne é o mundo acordado. o espírito, o mundo a dormir. se uma ferida que sara na carne atormenta o espírito, é composta por insónia.
insónia é querer dormir. e não conseguir.
ferida é insónia.
Francisco Ribeiro Rosa
quinta-feira, 18 de março de 2010
Violeta
Depois, foi até ao corredor. Tirou o quadro dos lilazes da parede e pousou-os no chão.
Três zero zero três.
Fora ao terceiro dia do terceiro mês que a conhecera. Passara por ele, alta, esbelta. Nem o olhou. Foi o suficiente para o coração dele sucumbir à sua beleza.
Abriu o cofre. De dentro da caixa em veludo azul escuro, poído pelo tempo, tirou os botões de punho. Um par de flores concêntricas de brilhantes de primeira água que havia adornado os lóbulos imaculados de sua bisavó no dia do seu baile de debute. Fora em Sevilha, onde havia séculos a família paterna instituíra como cabeça de morgado a magnífica villa com o seu refrigerado páteo andaluz. A ebúrnea mantilha não realçava o nacarado de qualquer conjunto de pérolas.
Levou-os para o quarto, depois de colocar os lilazes na parede verde.
Na cómoda onde os pousou, um envelope com um único nome. Violeta. Levou o revólver ao peito e matou o coração. Nesse instante, em que golfadas de carmim espirravam a colcha alva, começou a viver.
Pedro Diniz
18/03/2010
terça-feira, 16 de março de 2010
Fronteiras
“Vem enganado como todos os outros.” pensou a mulher.
Mas com este foi um pouco diferente.
Com o cotovelo pousado na janela aberta, o homem, trintão, bigode aparado e ar rufia mas simpático, fitava-a. Depois, sorridente, cumprimentou-a:
- Ei giraça...
Agradada, respondeu:
- Bom dia.
Mas o sorriso dela desvaneceu-se ao ver, naquele instante, uma arma apontada a si.
Ele, sem deixar de sorrir, apenas disse:
- Passa para cá a massa.
Juntou o dinheiro pensativa. “Nunca ninguém me chamou giraça”.
- Só isto? Perguntou ele, descontente com a quantia recebida.
Ela encolheu os ombros.
- Mas posso levá-lo para longe daqui.
Foi a primeira e a última recordação. A seguir, fechou os olhos.
Uma portagem estabelece sempre uma fronteira. A maior parte dos que a atravessam passam por ela quase sem dar conta, viajantes puros. Alguns, poucos, detêm-se. Talvez estejam perdidos.
O rádio tocava baixo. Sentada, quieta, com o olhar perdido na estrada, Maria esperava. Apesar de contrariada, tinha que haver sempre alguém a tomar conta. A motoreta que se aproximava anunciava que chegara o momento em que alguém tinha que a render. Só os grilos cantavam na noite silenciosa. Maria levantou a bicicleta meia escondida pela vegetação e afastou-se pedalando lentamente. Contrariada, deu uma última mirada ao colega que, de costas para ela, se instalava no seu posto.
No início também não tinha sido fácil para ela. Custava-lhe que quase ninguém passasse por ali. Agora já não se importava. Até preferia assim. Adaptou o seu mundo aos campos que se estendiam em volta da sua cabina, numa calma só perturbada pelo voo dos pássaros e aos vários livros e revistas que lia. No que lia, o mundo dos outros parecia maravilhoso. Muito diferente do que chegava até ela. Mas com o tempo, convenceu-se que o melhor era deixar de perseguir o mundo dos outros e aceitar ser simplesmente feliz. Dos livros guardou só um. Na verdade pouco ou nada precisava dos outros. Abandonou a inquietação que estes lhe traziam e concentrou-se no seu posto. Nunca se desleixava. Sabia perfeitamente quando um carro se aproximava. Estava sempre pronta para os receber. A maior parte dos que apareciam viam-se que estavam perdidos e se calhavam falar com ela, não resistia. Começou a convidá-los para longe dali. Desapareciam por entre a vegetação e os barulhos tranquilos da natureza.
Depois, eles partiam e ela ficava a vê-los afastarem-se. Olhando a estrada como se esperasse que esta lhe trouxesse alguma coisa especial. Sabia que mais qualquer coisa lhe estava ainda prometida.
Com este último foi diferente. Nunca lhe tinham chamado giraça.
Parecia vir enganado como os outros. Depois, apontou-lhe uma arma e nunca mais foram os mesmos. Ela começou por levá-lo para longe dali. Mas ele não ficou. Contudo, foi o único que voltou. Trazia quase sempre presentes. Ela sabia que eram roubados, mas acabava rendida. Com ele, não precisava de mais ninguém. Ele velava o seu mundo enquanto ela dormia e assim era finalmente senhora de tudo. Maria deixou de levar os viajantes para longe dali e Mário não voltou a roubar mais nada depois de lhe ter roubado o coração.
Um dia vieram buscá-lo. Ele não estava, levaram-na a ela. Que também tinha culpa, calara a verdade, acusaram. Eu não sabia... ele disse que queria assentar...” balbuciou. Não lhe valeu de nada. Foi condenada e encarcerada. Aos poucos foi acabando. Descobriu uma verdade que agravou aquela que tinha aceitado. Por uns tempos vivera a ilusão da completude mas Mário era uma metade de um todo que não resistiu ao mundo dos outros. A um mundo que não deixou de chamar por ele. E Maria não tinha sido cruel o suficiente para o impedir de partir.
A ela não lhe servia uma felicidadezinha ajustada. Sabia que estava para sempre condenada a ser metade de um todo impossível. Por isso, não se conformou. E acabou com tudo.
“Deixei que quebrasse as fronteiras do meu mundo. Levaste-me para longe dele. Deixei soprar a paixão. Os pregos de véu que protegia a minha intimidade caíram como figos verdes da figueira sacudida por um vento forte. E fiquei exposta. A um mundo novo. Nosso, acreditei. Percebo agora que não. Ao teu, não quero estar presa. Perdi o caminho de volta. Este é o único que me resta.”
A cabina onde vivera era diferente daquela onde morrera. A primeira tinha um rádio, a segunda uma cama e crucifixo.
Três mulheres fardadas olhavam o corpo. Tão surpresas quanto a morte nos pode ser. Com os pulsos toscamente cortados, Maria repousava sobre o crucifixo. A quem tinha pedido todas as noites que a levasse para longe dali. As preces foram finalmente ouvidas e atravessou a fronteira que a delimitava como um viajante puro. Vulnerável. Perdida.
Em cima da cama, arrumada, deixou uma carta. Para Mário, dizia.
No rosto, a expressão serena de quem alcança a libertação.
Ana Alves Oliveira
sábado, 13 de março de 2010
Exercício de escrita criativa.
1 – Descrever alguém à procura de alguma coisa, concreta e essencial.
O sobretudo parecia uma mina de bolsos, o casaco de dentro também. Em cada bolso escondia-se uma surpresa, um novo objecto perdido para uma altura que não era esta. O nervosismo do homem, em busca do que procurava, contrastava com o rosto suave, o corpo magro, quase descontraído não fossem as mãos a saltar de bolso em bolso, à procura do objecto do seu interesse, da falta que lhe acontecia neste momento, daquilo que lhe travara o caminho do que se queria imediato.
Uns quantos encolheres de ombros, um olhar de fuzil ao espaço adjacente, como se algum dos bolsos pudesse ter saltado para a calçada e fosse urgente não o deixar fugir. Enquanto isso, apesar da espera, a Mulher olhava resignada; conhecia o final da história: havia sempre mais um bolso para procurar, mais uns resmungos para ouvir, as chaves acabariam por tilintar. A cena seria esquecida noutras cenas que se seguiriam logo após a necessidade de encontrar um novo tesouro, escondido naquele mar de bolsos.
2 – Encontrar um obstáculo que impede o encontro com a coisa concreta e essencial.
Um esgar, como o de uma dor que obrigava a franzir o rosto num trejeito que demonstrava desespero, estampou-se no rosto do homem. Um dos bolsos estava roto, traíra a sua confiança, colocava uma dúvida naquilo que era rotina. Procurava ainda, volta a certificar-se que o bolso de dentro, o destinado à carteira, não tinha chaves. Batia com as mãos ao longo do corpo, como sempre fazia, na esperança de que as malditas chaves gritassem de dor. Os ombros ossudos caíram, as pernas longas e desajeitadas deixaram de se bambolear ao ritmo da procura; nos olhos azuis, quase doces, de uma inocência assombrada, perpassava uma sombra, as narinas dilataram-se em busca de um suplemento de ar para fazer face ao imprevisto: um bolso roto, um dos que poderiam ser decisivos na resolução da coisa. Ainda mirou o forro, introduziu um dos dedos no buraco exposto, ficou a olhar por instantes, incrédulo desta súbita desavença com um dos bolsos. Estacou, deu-se ar de quem pensava.
3 – Interpretação interior.
Revirou os olhos em direcção à testa, como quem pede ajuda à memória. Pensou, repensou, bateu com os tacões na calçada, procurava um norte, um procedimento que desfizesse esta armadilha em que caíra. Olhou para a Mulher, ensaiou um olhar acusador, desistiu quando esta suspirou resignada, teve a certeza imediata de que dali não espiava o mal e que a culpa do bolso roto regressava a si ainda antes de terminar a primeira recriminação. Pensou pôr os bolsos de parte, concentrou-se num possível inimigo: alguém. Alguma coisa do seu mundo tinha tramado o destino das suas chaves. A duvida provocada pelo buraco incendiava o momento, tornando diferente, alargando os horizontes dos possíveis destinos do que procurava.
Recriminou-se, julgou chagada a hora de se emendar, o seu coração endureceu.
4 – A vida depende da resolução.
A Mulher trouxe-o à realidade, perguntou-lhe por “agora”, pelo que iriam fazer com a sua vida se as malditas chaves não aparecessem, como iriam entrar dentro do carro, fugir dali, daquela confusão, daquele maldito problema em que se tinham metido. O saco do dinheiro avisava da urgência de colocar distância entre o banco assaltado no quarteirão anterior e o automóvel imobilizado. O plano tinha sido estudado sem ter em conta os malditos bolsos, as chaves que se poderiam perder e comprometer o seu futuro, a sua vida de pessoas livres apesar do dinheiro roubado.
As sirenes ouviam-se. A polícia estava a chegar, os cinco minutos de trégua tinham-se escoado nos bolsos do homem.
5 – A personagem triunfa sobre o obstáculo.
O terror invadiu as suas vidas, o homem não tirava os olhos da mulher, rendia-se à evidência, à face prática desta que sempre tirara de apuros as suas vidas. A Mulher ajeitou o casaco, compôs o volume que escondia, passou a mão pelo cabelo, olhou em volta, dissimulada, tentando encontrar um qualquer passe mágico antes que desatassem a correr, espavoridos, completamente derrotados por uma chave, a chave que lhes configurava a vida, talvez a morte.
Censurou a sua fé, fez votos, rogou pragas que não se ouviam, daquelas que só as mulheres ousam em vista de uma contrariedade séria, dramática como aquela. Encomendou-se à Virgem, prometeu dez por cento para a caixa das esmolas, arrependeu-se da heresia; olhou para dentro do automóvel e viu as chaves penduradas da ignição. Soube de imediato ter de ir a Fátima, visitar a sua cúmplice.
Lisboa, 07 de Janeiro de 2008
Companhia do Eu – Pedro Sena Lino (Formador)
Manuel Alonso
sexta-feira, 12 de março de 2010
Espero que a Primavera chegue mais cedo e confirme que o céu é azul
Querida Mãe
Tua Filha
Susana Caldeira Cabaço
quinta-feira, 11 de março de 2010
Laura
Lá longe, na curva do eucalipto, no sitio onde o avô do Sebastão bateu as botas, via-se uma nuvem de poeira, depois, a pouco e pouco, a imagem de amazona ia crescendo aos meus olhos e ao ritmo das batidas do meu coração.
Aquele instante - do cruzamento da sua marcha com o meu lugar de espectador - marcavam o inicio e o fim do meu dia. A partir desse momento iniciava-se a longa espera pelo próximo momento, o do dia seguinte.
Manuel Alonso
Deu-se o caso seguinte com um velho conhecido meu, homem quase da idade de Cristo, meditabundo mas feliz, que não dando para noveleta, bem servia a um folhetim – dessas que as velhas senhoras lêem ao conforto da lareira do Inverno, protegidas que estão já dos verões do corpo. Pois o caso, não sendo velho, continha uma daquelas aventuras no tempo que fazem as coisas perder a idade. Tinha-o encontrado frequentemente, a esse velho conhecido, de nome Feliciano, na Biblioteca Pública, sempre com aquel ar irrepreensível e perdido de explorador tropical de velharias. Mas notava a propensão de acabrunhadice no seu rosto – como se um fantasma fosse crescendo nele. Um dia em que nos encontrámos no fumoir, desavergonhei-me e perguntei-lhe:
- O meu amigo está bem?
Secundei logo que me perdoasse a pergunta; a nossa intimidade não ia para além de apertos de mão entre os fólios. Mas ele passou por cima das minhas mesuras e respondeu, o olhar cavo por muitas noites vigiadas:
- Olhe, meu caro, estou apaixonado.
Cumprimentei-o, como se faz sempre que o coração dá boas notícias (infelizmente, são sempre mais más que boas; sempre achei que andamos cá para aprender a pensar com o coração), mas ele negou-me o cumprimento:
- E eu que pensava que o meu amigo queria o meu bem. Não me cumprimente por isso.
- Mas então!?
- Olhe, estou apaixonado por uma coisa pela qual não se pode apaixonar.
«Uma coisa?!», pensei para os meus botões. Então Feliciano parecia estar dentro de um daqueles discursos papais contra os homossexuais, ou freudianos sobre os trios sexuais. Não esperava vistas tão curtas de um homem com as palmas dos olhos tão consumidas em velhos incunábulos gastos de vidas pornográficas.
- Estou apaixonado por uma mulher morta.
E, puxando-me para uma cadeira de verga, acendendo um cigarro depois do outro, como se não quisesse perder a chama interior em que se consumia, com o olhar fixo e as mãos revolteando, industriou-me no seu caso.
- Tudo começou com umas cartas achadas no meio de outros manuscritos. Coisa pequena, sabe, desinteressante até para a maioria. Mas eu notava que aquelas cartas, do punho de uma mulher, tinham sempre uns circulozinhos à volta de algumas palavras. Olhe, fiquei surpreso. Encontrei mais versões: na verdade, não fiz outra coisa em duas semanas. O fim de semana de intervalo custou-me mais que as noites de juventude agarrado ao fígado. E o que vim a descobrir? Que havia um código. E que o meu nome, o meu nome inteiro, vinha sublinhado e destacado nessas letras e palavras. Pode acreditar nisto? Eu não.
(continua)
Pedro Sena-Lino