Aproximava-se a hora.
António regressava do parque de estacionamento. Eram oito da noite. Para trás deixava a cabina onde trabalhava. De passo largo, satisfeito, caminhava até casa. Quem olhasse para ele não adivinharia um homem sem sonhos. Mesmo depois de viver em paz.
Ainda era difícil chegar a casa. Abrir a porta e, a esperá-lo, a angústia do passado na expressão desolhada e o corpo rígido da mãe. “Estou cansada. Não durmo bem”, mascarava. Serenava apenas quando olhava o jantar quente em cima da mesa. Eram só os dois.
António vivia de rotinas. A repetição da vida numa segura monotonia que afiançadamente não lhe trazia surpresas nem traições. António era um homem cerrado. Só usava camisolas pretas. As únicas que o ocultavam até de si e, oculto, vivia o escuro da noite que à janela do seu quarto o distraía sem culpas. Desde os tempos de escola que lhe reclamavam a atenção. Foi naquela altura que a cabeça aprendeu a fugir. Assim, a vida não parecia tão difícil.
Agora, gostava que fosse possível aprender tudo de novo. Sonhar. Confiar. Mas os ânimos mais atrevidos eram condenados pela lembrança que o combóio das 23.10h trazia. A partida do pai. A nova vida. O alívio. A paz. Desejos tão impossíveis e subitamente todos realizados. Depois destes, não aspirava a mais nenhum.
Ao longe, o seu conhecido.
Sorria ao som do seu apito.
Da felicidade apenas guardava pequenos ecos dispersos na memória. Lembrava-se de ter sido uma criança feliz. Passeios de mãos dadas. Ele pequeno a olhar o pai enorme como os sonhos e o mundo de que lhe falava. Um conquistador que queria seguir. Recordava as tardes na casa grande com muitos quartos e cheia de senhoras só de robe. Apesar de estranhar vê-las com roupa de noite em pleno dia, tudo parecia normal quando o apaparicavam e contavam histórias de encantar. Até ao dia em que percebeu que aquelas histórias não encantavam a mãe. E aos poucos deixaram de ser felizes.
Com a barba veio a revelação.
A crueldade dos colegas de escola acabou-lhe com o mito. Às gargalhadas.
Não sabia o que fazer com o que tinha descoberto. Como é que se vive depois de saber que o pai nunca tinha sido aquele pai? Como é que se pode aceitar um novo pai? Não. Não havia novo nem velho pai. Havia só aquele desconhecido que ele odiava duplamente. Por tudo o que era e por tudo o que ele nunca tinha sido.
E ele, quem era? Ser filho de um desconhecido fazia dele um órfão. Era isso que ele era. A sua identidade extinguiu-se naquela verdade. Uma verdade que não consentia e que tinha que aceitar. Só tinha aquela vida. “Não vales nada. És igual a ela”, humilhava. À mãe, a repulsa apenas lhe valia ameaças que lhe abriam a porta da rua. Mas o rapaz fica, rematava. Sem ti, talvez se faça homem. Foi então que se vestiu de pesar. Pelo medo que o escravizava mudo e quedo.
Até ao dia que se achou. E nesse dia foi capaz de acabar com o asco que o corrompia. Uma noite foi ao seu encontro. Tinha os punhos cerrados, tão cerrados que lhe doíam. Receava perder toda a coragem que reunira. A veste mais escura que a noite, apanhou o pai de surpresa. Olhou-o nos olhos e, sem remorsos, desembuchou anos de nojo. Desaparece, ou mato-te!, foram as últimas palavras que lhe disse.
Nessa noite, voltou à janela do quarto de peito aliviado. O pai tinha razão. Ele e a mãe eram iguais. Aquela noite provou-lhe que os mortais também ressuscitam. Plenos. O desconhecido não voltou para casa e as noites ganharam cheiro a lavado. Foi nesta altura que deixou de desejar. Tudo o que queria, alcançara. À mãe agradecia nunca ter desistido. Por isso, também ele não fraquejara.
Ao fundo, o apito do comboio das 23.10h. A constância a cumprir-se num cumprimento de amigos.
Conciliado, agradecia-lhe a ajuda. A sua luz, como que uma anunciação divina, mostrou-lhe o fazer. “Combóio faz mais uma vítima”, diziam os jornais do dia seguinte. Os braços endureciam. Ainda recordavam a força com que o empurrara. Impávido, ainda via o seu desaparecer trucidado. Impiedoso com as horas.
Ana Alves Oliveira
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)
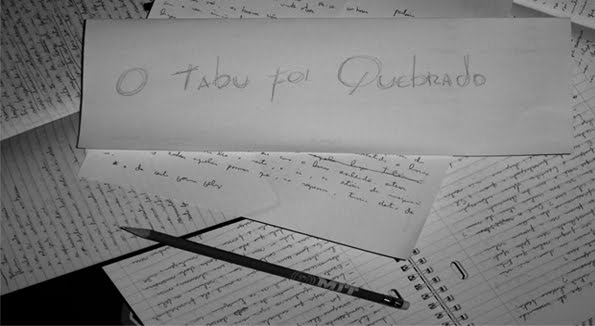
Sem comentários:
Enviar um comentário